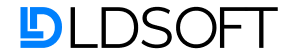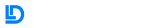Investimento em pesquisa: o que a Austrália tem a nos ensinar
A Austrália elevou os gastos em pesquisa e tem os planos do setor definidos até 2030. Já no Brasil o investimento em inovação está em queda.
Encravado num subúrbio pacato, de ruas largas e arborizadas a meia hora de carro do centro de Melbourne, segunda maior metrópole australiana, o acelerador de partículas Synchrotron é, talvez, o melhor exemplo de como a Austrália, um país rico em recursos naturais e exportador de matérias-primas como o Brasil, está dando passos importantes rumo à economia do conhecimento — uma corrida em que o Brasil dá sinais de estar ficando para trás.
O Synchrotron é um laboratório que está na fronteira do avanço científico mundial. Ali, num galpão de 15 000 metros quadrados cuja fachada circular lembra a de um ginásio de esportes, cientistas enxergam com precisão as propriedades de toda sorte de átomos e moléculas presentes na natureza. Isso é possível com o uso de elétrons que, movimentando-se na velocidade da luz em enormes circuitos mantidos a vácuo, emitem um brilho imperceptível, mesmo com os equipamentos mais avançados de um laboratório convencional.
Como são estruturas enormes, caras e complexas de construir, dá para contar nos dedos os aceleradores de partículas no mundo — há 48 unidades desse tipo em 23 países, boa parte deles na Europa e nos Estados Unidos. A unidade australiana é uma das mais produtivas: por ano são feitos por lá mais de 1 000 testes. A grande maioria é de uma ciência básica que só deverá trazer avanços perceptíveis para a humanidade em décadas. Mas, desde que foi aberto, em 2007, o Synchrotron coleciona resultados bem palpáveis.
A subsidiária local da farmacêutica americana Pfizer testou novas terapias contra o câncer que já estão no mercado. Recentemente, um grupo de mineradoras, incluindo a australiana BHP e a brasileira Vale, financiou pesquisadores da Universidade Monash, que fica ao lado do Synchrotron, em experimentos sobre a resistência dos trilhos utilizados no escoamento da produção de suas minas. “Em 6 horas de testes no acelerador de partículas, conseguimos levantar um volume de informações que demoraríamos cerca de um ano para obter pelos métodos tradicionais”, diz o engenheiro John Cookson, da Universidade Monash, condutor das pesquisas. Veja: Plataforma reúne mais de 3 mil pesquisadores e é líder em patentes nos EUA há 24 anos Patrocinado
Os recursos de empresas e universidades que alugam o espaço para pesquisas hoje representam 76% do orçamento do acelerador, de aproximadamente 25 milhões de dólares por ano. O restante da conta é fechado com o apoio do governo australiano, que, em agosto, anunciou um aporte de 400 milhões de dólares pelos próximos dez anos no laboratório, administrado por um grupo de cientistas australianos. O dinheiro deve ser empregado em obras para ampliar as instalações. “Vamos praticamente duplicar nossa capacidade de trabalho”, diz o físico Andrew Peele, gerente do Synchrotron. “Estamos muito animados com a expansão do laboratório.”
Assim como a Austrália, o Brasil também está investindo num acelerador de partículas. O clima por aqui, no entanto, é de apreensão com a possível falta de recursos para terminar o projeto. Há duas décadas o país já tem uma dessas estruturas, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, mantido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), organização social fundada por cientistas em Campinas, no interior paulista. Considerado ultrapassado pela comunidade científica mundial, o acelerador deve ser desativado quando ficar pronto o Sirius, uma nova estrutura com 68 000 metros quadrados de área construída ao lado do laboratório atual, ao custo de 1,8 bilhão de reais.
O Sirius terá capacidade para realizar quatro vezes mais testes do que faz hoje o similar australiano. A promessa é que o brilho gerado pelos elétrons na nova estrutura tenha qualidade superior à dos demais aceleradores no mundo todo, o que permitirá testes em materiais impenetráveis pelo laboratório atual, como as rochas ao redor da camada de pré-sal, onde está boa parte das reservas de petróleo brasileiras.

Pelo cronograma inicial das obras, de 2014, o Sirius deveria funcionar em potência máxima no começo de 2019. Agora, a previsão otimista é que isso aconteça daqui a três anos. Tudo em razão do ritmo conta-gotas dos repasses do governo federal, responsável por quase 100% do orçamento do laboratório atual e investidor único do Sirius. Neste ano, em que a construção entrou na fase mais importante, a da instalação do circuito por onde os elétrons rodarão em altíssima velocidade, a diferença entre o que estava previsto pelo cronograma e o que de fato entrou nos cofres do CNPEM beira os 500 milhões de reais.
O descompasso financeiro causou ajustes de contratos com os fornecedores e a troca de algumas peças por similares mais baratos. “Estamos hoje vivendo de mês em mês”, diz o físico Antonio José Roque da Silva, diretor do laboratório. E a expectativa não é boa para o ano que vem: o orçamento previsto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações deve ser metade do que é em 2017. Projetos tocados pela pasta, como o do Sirius, deverão sofrer apertos ainda maiores. “O Sirius corre sérios riscos de parar”, diz um executivo do ministério.
Na origem de realidades tão opostas de Austrália e Brasil na corrida pelo domínio de uma estrutura de ponta para o avanço do conhecimento estão visões bem distintas sobre políticas públicas para inovação. Tradicionalmente, os dois países sempre estiveram na categoria de aspirantes a um posto de relevância na pesquisa científica mundial, com ilhas de excelência aqui ou ali, mas sem a mesma consistência acadêmica de Estados Unidos, França ou Reino Unido. Há décadas Brasil e Austrália gastam menos em ciência e tecnologia do que a média da OCDE, o clube das nações desenvolvidas.
Na Austrália, o enfoque escolhido para fomentar a inovação foi o de colaboração entre Estado, academia e iniciativa privada. Desde 1985 o governo australiano concede créditos fiscais generosos a empresas e pessoas que doam recursos às pesquisas em universidades ou laboratórios independentes, como o Synchrotron. O resultado: um mercado fértil de fontes de financiamento para a pesquisa. Em 2015, segundo dados do Tesouro australiano, que fiscaliza o programa, cerca de 13 000 doadores colocaram 16 bilhões de dólares à disposição de cientistas, em troca de uma renúncia fiscal que não chegou a 15% do valor investido. Atualmente, cerca de 60% dos gastos em ciência e tecnologia no país são financiados por empresas, uma das maiores taxas desse tipo de participação no mundo.

Enquanto isso, no Brasil, o Estado historicamente foi o grande provedor de recursos para a ciência, até por falta de abertura e de estímulo à participação privada. Em 2015, os desembolsos da União e dos estados somaram 60 bilhões de reais, o dobro do que investiram as empresas. Recentemente, a legislação brasileira passou a prever incentivos para financiar a inovação dentro das empresas, como a bem-sucedida Lei do Bem, que dá descontos fiscais aos negócios inovadores. Mas ainda não dispomos de mecanismos claros para incentivar a doação de recursos à pesquisa em universidades ou centros de pesquisa independentes. “Não é à toa que a pesquisa é tão dependente do Estado”, diz o economista Rafael Lucchesi, diretor de educação e tecnologia no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
No Síncroton de Campinas, por exemplo, só 1% dos usuários é constituído de funcionários de empresas, e em geral de grandes negócios com algum caixa para queimar em experimentos de longo prazo. É o caso da farmacêutica Cristália, que usa o laboratório para analisar as propriedades de fungos encontrados no Nordeste que servirão de base para novos antibióticos em breve. A Petrobras analisa ali a resistência dos materiais de suas refinarias. Já a petroquímica Braskem testou no Síncroton as propriedades químicas de um tipo de plástico patenteado por ela e capaz de suportar temperaturas de até 100 graus Celsius sem deformar, o que já despertou a atenção de potenciais clientes nas indústrias de embalagens e montadoras de veículos no Brasil e nos Estados Unidos. “Esse produto hoje é a grande aposta da Braskem para conquistar novos mercados”, diz Patrick Teyssonneyre, diretor global de inovação e tecnologia da empresa.
Agenda nacional
A consequência dessas diferenças é que, diferentemente do Brasil, a Austrália tem colhido resultados consistentes em ciência e tecnologia. Desde 2002 o investimento na área passou de 1,5% para 2,3% do PIB e está perto de atingir a média das demais nações desenvolvidas, de 2,5%. No Brasil, o volume de investimentos estagnou ao redor de 1%. Nos últimos 15 anos, a Austrália subiu do nono para o sexto lugar no ranking dos maiores gastos per capita com ciência, à frente de França e Reino Unido. Enquanto isso, o Brasil caiu uma posição e hoje está em 15o lugar. Na ponta, o volume mais abundante de recursos empurra uma economia que, na contramão da tendência mundial, está conseguindo reverter a queda nas exportações de bens de alto valor agregado — cuja produção migrou expressivamente para a China.
Em 2014, a fatia dos bens de alta tecnologia em relação ao total de exportações de manufaturados da Austrália chegou a 14%, 4 pontos percentuais acima do índice de 2007. No mesmo perío-do, no Brasil, a participação dos bens de alto valor agregado no comércio de bens manufaturados só caiu: de 19% para 10%. Os incentivos à comunidade científica australiana motivaram a instalação de centros de pesquisa de multinacionais no país, como o da americana Boeing, que em 2017 abriu um laboratório em Brisbane, terceira maior cidade local, para estudar o impacto da realidade aumentada na aviação.

Por trás da receita do sucesso recente da Austrália no fomento à ciência de ponta estão qualidades há muito tempo em falta no Brasil: visão de longo prazo e comprometimento político com a transição para uma economia baseada em conhecimento. Por lá, o modelo de usar o dinheiro privado para fomentar a ciência se manteve de pé por sucessivos governos, independentemente do espectro ideológico. Em 2015, com o fim do ciclo mundial de altos preços para matérias-primas — o chamado “boom de commodities”, que, assim como o Brasil, beneficiou a Austrália, um dos maiores exportadores de minério de ferro, carne e grãos —, o governo do primeiro-ministro liberal Malcolm Turnbull divulgou uma agenda nacional de investimentos em ciência e tecnologia com efeitos até 2030.
No rol de medidas, além da reforma do Synchrotron e da ampliação do sistema de créditos fiscais para as empresas que investem em inovação, estão mais de 2 bilhões de dólares de recursos públicos para áreas em que o país já é referência mundial em pesquisas de ponta e que deverão gerar negócios promissores nas próximas décadas, como biotecnologia e computação quântica. “Nosso crescimento no futuro vai depender de um ‘boom de ideias’”, disse Turnbull num vídeo divulgado no YouTube para anunciar o plano.
Já o Brasil costuma ter uma agenda diferente de ciência e tecnologia a cada mandato presidencial. Desde 2007, no governo Lula, o país já teve três planos, com centenas de boas intenções salpicadas entre ações, objetivos e “eixos estruturantes”, que, em comum, demonstram uma baixa capacidade do Estado para ter uma visão precisa do que quer para o setor. “O planejamento para a ciência costuma deixar de lado critérios de competência para atender a todos os interesses da comunidade científica”, diz Carlos Américo Pacheco, presidente da Fapesp, agência paulista de fomento à inovação. No fim, criam-se documentos que são verdadeiras colchas de retalhos com pouca relevância para o avanço do conhecimento no país. O último, em 2016, já no governo Temer, não contou com o presidente durante a divulgação.
A consequência: planos inócuos ou mal concebidos. Talvez o exemplo mais evidente seja o Ciência Sem Fronteiras, programa de intercâmbio lançado em 2011 para alunos de universidades públicas, notório pelos casos de estudantes que foram parar em universidades estrangeiras de qualidade inferior às que estudavam no Brasil ou em países cujo idioma não dominavam. Pela falta de mecanismos de avaliação sobre o impacto dessas viagens à ciência brasileira, neste ano o Ministério da Educação, que gastou 12 bilhões de reais no projeto, decidiu restringir as bolsas a alunos de pós-graduação.

Olhando para o futuro, há sinais de que o Brasil, aos poucos, vem adotando algo da cartilha que a Austrália segue para elevar o investimento em ciência e tecnologia. Um exemplo é a busca de novas fontes de recursos para pesquisa. Desde o ano passado, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, centro aberto nos anos 40 por pesquisadores trazidos do americano Massachusetts Institute of Technology, e que até hoje se mantém na elite do conhecimento feito no Brasil, deve levantar mais de 20 milhões de reais, de fontes como a fabricante sueca de aviões Saab, para conduzir 40 projetos de pesquisas, que incluem satélites e aeronaves militares. “A maior concorrência por verbas públicas de ciência no Brasil deve fortalecer nossa estratégia de buscar dinheiro no exterior”, diz o engenheiro Anderson Ribeiro Correia, reitor do ITA.
O financiamento privado pode ganhar um impulso com um projeto de lei da senadora Ana Amélia (PP-RS), que já passou pelo Senado e hoje está na Câmara dos Deputados, prevendo isenções fiscais aos doadores de recursos para a pesquisa científica. “A inspiração vem dos fundos patrimoniais de universidades americanas e inglesas de excelência, como Harvard e Oxford”, diz Ana Amélia. O Brasil até agora não conseguiu criar uma política sustentável de apoio à ciência. A torcida é para que o esgotamento do financiamento público dê lugar a um modelo que deu certo na Austrália — e para que o Brasil consiga acelerar o passo rumo a uma economia baseada no conhecimento.
Fonte: Exame